Alexandre Pinheiro Torres escreveu sobre O Libertino
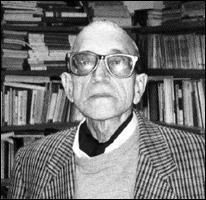 Crítica de Alexandre Pinheiro Torres (na foto) incluída nos Textos Malditos. Inicialmente escrita para publicação no suplemento literário do «Diário de Lisboa», foi cortada pela Censura. Uma carta veemente de A. P.T., enviada de Inglaterra, onde em Cardiff era professor universitário, protestando e ameaçando de fazer barulho com o caso nos jornais ingleses levou, depois, a Censura a autorizar a publicação do texto, sem quaisquer cortes.
Crítica de Alexandre Pinheiro Torres (na foto) incluída nos Textos Malditos. Inicialmente escrita para publicação no suplemento literário do «Diário de Lisboa», foi cortada pela Censura. Uma carta veemente de A. P.T., enviada de Inglaterra, onde em Cardiff era professor universitário, protestando e ameaçando de fazer barulho com o caso nos jornais ingleses levou, depois, a Censura a autorizar a publicação do texto, sem quaisquer cortes.Luiz Pacheco ou o Burlador de Braga «magister artium eroticarum»
Com um inteligente e claro posfácio de Júlio Moreira apareceu recentemente um novo original de Luiz Pacheco, o celebrado autor de Crítica de Circunstância, livro que mercê da compreensão de toda a gente já vai na décima quinta edição.
Chama-se o novo original O Libertino passeia por Braga, a Idolátrica, o seu Esplendor. Sabe-se que foi disputado por várias editoras, mas o certo é que a Edição de Autor venceu mais uma vez. Desta forma é que o livro de autor português não se tornará «mercadoria» nem que o matem, mau grado a pesporrência de quem bem ajuda que tal situação de eternize, para bem dos escritores de meia tigela importados do estrangeiro e que, depois de vertidos no calão nacional, são propagandeados em caros anúncios com a melhor adjectivação que a casa gasta.
Poderá acaso o Leitor Distraído imaginar um Libertino a passear por Braga? Pode, porque podemos imaginá-lo a passear por onde lhe dê a real gana. Mas Braga – objectar-se-á – epitoma o «Establishment», e, este, embora adepto praticante convicto dos ballets rose, repele a concepção libertina segundo a qual o amor é um facto da Natureza. Apesar disso (e por isso mesmo) o Libertino vai tentar fazer a sua colheita numa coutada hostil, missionário da Verdade libertina junto do indigenato incréu, empurrado missionariamente pela premência do seu martírio, da sua glória e santificação.
Interessa-nos saber como o Libertino se descreve como um anti-D. Juan. Não é belo («com as 17 ou mais dioptrias e o estigmatismo e as lentes e as clarabóias do verde, que olhar será o meu?», interroga-se consciente do seu aspecto físico «desgraçado»), não tem um tostão («um bom Libertino não precisa de dinheiro», filosofa), e anda mal vestido, miserável («blusão de nylon preto, calças rotas no rabo, sapatos rotíssimos nas solas e sujos de poeira por cima, uma coisa entre o tedibói e o vagabundo», descreve-se).
O verdadeiro D. Juan, o Burlador de Sevilha, inventado por Tirso de Molina, esse é másculo e sabe usar da palavra. A magia verbal é com ele, embora os seus processos de sedução não deixem de não ser toscos, faz-se passar pelo noivo, promete casamento, etc., sobretudo não anda com lunetas de dezassete dioptrias nem exibe fundilhos. O Burlador de Braga está, assim, mais próximo Santo Genet, canonizado por Jean Paul-Sartre, por se tratar de uma figura que, pelo seu funambolismo charlatonesco vai tornar maravilhosos (no sentido de fontes de maravilha, surpresa, prodígio, de coisas extraordinárias e às vezes incompreensiveis) elementos que, na aparência, são ignóbeis.
O Burlador de Braga não vai ser, na verdade, como o seu antepassado espanhol. Este, como «gran garañon» de Espanha, tenta sempre suplantar as figuras que substitui. O «bracarense» não tenta suplantar nem substituir seja quem for. E, sobretudo (isto é fundamental), não promete casamento. Promete apenas prazer. Como processo de sedução utiliza os seus olhares de megatoneladas (por definição, sem eficácia). A «magia verbal» reduz-se a, nele, a um jogo simples e ingénuo de perguntas e respostas, com sugestões eróticas excessivamente vagas para a mentalidade das lolitas (?) minhotas. O Burlador de Braga esqueceu-se que a pseudovirgem de Nabukov é um produto sofisticado de um meio anti-Brgal (para usar o adjectivo de Luiz Pacheco), e que nem sequer é o H. H. que seduz ou que burla seja quem for.
A Penísula Ibérica tem de usar sempre de extremo cuidado quando tentar as comparações anglo-sáxonicas.
O auto-retaro do Libertino constitui uma ficha que serve para o colocarmos no mundo da humilhação. Descobre a Super-Lolita, e outras minilolitas de Entre Douro e Minho, mas a sua vagabundagem espiritual não lhe permite a persistência donjuanesca até as encurralar. Algumas não chegam mesmo a adivinhar que o Burlador de Braga se interessou efemeramente por elas. A admiração é à distância, não chega a haver qualquer sedução, e as suas manobras de ataque são escandalosamente ineficazes. O resultado prático é uma humilhação permanente, uma auto-flagelação, uma procura inútil do pecado, uma tentativa sempre frustrada de santificação pelo Mal. Nisto, a personagem afasta-se de Jean Genet, não chega a atingi-la nas suas ambições.
Tratar-se-á (como dirá o próprio autor) de «luxúria mental» apenas, das actividades inconsequentes e sem consequências práticas de um «Libertino dos domingos minhotos de Braga». O Libertino exclama desiludido no fim de uma jornada afinal inocente. «Mas que vontade de ter pecado. De pecar. Como assim: de viver.»
A EXEMPLARIDADE NEGATIVA
Mas em Braga é mais fácil fazer o Bem do que fazer o mal. Fazer o Mal é, às vezes, um tanto difícil. Pelo menos o Libertino não pode fazê-lo. Até porque o Mal, a ser feito em Braga, terá de ser feito de acordo com as regras antilibertinas do Establishment de que a cidade minhota á indispensável e glorioso bastião.
Augusto da Costa Dias foi quem, entre nós, e no domínio do ensaio, chamou pela primeira vez a atenção para esta inversão de valores. Ela é focada no estudo com que antecedeu a publicação do inédito de Almeida Garret, «O Roubo das Sabinas». Os caminhos da virtude são amenos e suaves, enquanto os do pecado não são. «A virtude nem é difícil nem é árdua», diz Garret, de quem Augusto da Costa Dias cita ainda estes versos:
Não, filho, só no crime há dor e angústia,
Só delícia e prazer há na virtude».
Aliás se bem interpreto é este o tópico profundo de Sartre ao interpretar Genet. Daqui se chega ao conceito de pecado como martírio, à ideia (sacrílega?) de que há uma santificação a que se pode chegar no Reino do Mal (como no Reino do Bem), daqui se chega à glorificação do mal, no sentido explicado perlo autor da Notre Dame des Fleurs: «há uma glória segregada pelos folhos da infelicidade».
Há, pois, uma santidade pela execração. Sartre chama a atenção em Saint Genet, Comédien et Martyr para o impulso que leva certos homens a procurar o desprezo e a buscar o julgamento dos outros homens. Ao lado da exemplaridade negativa. Em Jean Genet, e segundo a análise sartreana, há uma vontade de identificação com todos os pecados do mundo. Como ponto culminante desta Ética do Mal temos a ideia de que ela (da mesma forma que a Ética do Bem) também implica uma Graça.
A DEFESA DA EXEMPLARIDADE POSITIVA PELO CASTIGO
Tirso de Molina tinha de castigar o terrível D. Juan. O Burlador de Sevilha é, por isso, e segundo a moral oficial, uma obra de tendência morigeradora. Deus intervém sobrenaturalmente na figura do Convidado de Pedra e D. Juan vai par as profundas do Inferno. Mozart não pretendeu melhor solução. Não é que o sedutor sevilhano fosse, todavia, um descrente. O Leitor distraído sabe que, perante e iminência do castigo, pede um sacerdote, a fim de obter um perdão à tangente, oportunidade de redenção que lhe é negada. Assim é castigado. O nosso Guerra Junqueiro não deixa de não ter tido um espírito menos morigerador. À sua mentalidade, a este respeito pudibunda, não lhe soaria bem o triunfo do Libertino. Falar de um D. Juan, de um sedutor, é procurar-lhe simultaneamente uma punição qualquer: a defesa da exemplaridade positiva.
O Burlador de Braga, ou seja, Luiz Pacheco, não deixa também de não ser perseguido pela hantise da penitência. O Libertino passeia por Braga, a Idolátrica, o seu Esplendor, abre com a premonição da morte. Mas o que salva Luiz Pacheco de cair no cliché é a solução magistral para o problema do castigo. Falhada a peregrinação erótica, esquivas ou inatingíveis as lolitas, O Libertino nega-se como tal, confessa a sua queda, a sua demissão a sua derrota.
O «esplendor» que ele passeia por Braga é, portanto, um esplendor negativo, porque em Braga toda e qualquer tentativa de contágio libertino tem de acabar em fracasso. A cidade minhota é, pois, emblemática do Calvário do Libertino, não só a coutada inacessível à caçada, como ao espírito, que a dita. O Calvário é representativo da reacção conservadora a uma certa mentalidade revolucionária ou à doutrinação que dela deriva. Engloba, na sua mitologia, uma certa forma de castigo ditado pelos acusadores. O Convidado de Pedra de Tirso de Molina simboliza esse júri silencioso, mas tremendamente eficaz, que é a moral do Establishment. Guerra Junqueiro, em A Morte de D. João, soube (apesar da Velhice do Padre Eterno) ser dela um perfeito porta-voz, em nome da piedade humanitarista pelas vítimas dos burladores.
Mas no livro de Luiz Pacheco o Libertino não pode ser englobado no sector dos acusados. Nisto é que a personagem se opõe diametralmente a D. Juan, e é mesmo um anti-D. Juan. A argúcia de Pacheco foi ver esta implicação fundamental, ao definir a personagem por meio de uma caraterologia que é, detalhe por detalhe, uma «teologia negativa» relativamente à personagem tradicional. É certo que esta degradação do sedutor já tem antecedentes na literatura portuguesa. Estou a lembrar-me da forma como Gomes Leal a retrata nas Claridades do Sul. Mas Luiz Pacheco transcende obviamente estes planos, ligando o seu Libertino a outra genealogia. Poder-se-á mesmo dizer que a progénie do seu Libertino nada tem a ver com qualquer tradição. Pelo menos com a nossa tradição.
Mas não me interessando deslindar este aspecto há que afirmar que Luiz Pacheco coloca, com argúcia, a sua personagem no sector dos acusadores da sociedade. Os pecadores contra a instituição da heterosexualidade, como Gide, não deixam, a cada momento azado, de procurar a justificação. No fundo sentem-se sempre, e profundamente, no banco dos réus. Corydon ou Si le grain ne meurt são discursos de defesa contra uma Sociedade de dedo apontado. Gide está no limiar de Genet. E Genet já acusa, obviamente.
Seria injustiça, todavia, dizer que Luiz Pacheco é um mini-Genet ou um Libertino de bolso de colete. Bastaria a profunda genuinidade de O Libertino passeia por Braga, a Idolátrica, o seu Esplendor, o seu carácter, a sua atmosfera tão portuguesa, para demitirmos o juízo derrogativo. Até porque Luiz Pacheco escolhe para oferecer-nos a face em que o Libertino não se realiza, em que tudo rigorosamente lha falha, e em que o libertinismo se limita a uma nem sempre muito atrevida aventura mental. Não é este o caso de Genet, se bem interpreto.
O casanovismo frustrado deste Libertino leva-o de decepção em decepção O que lhe interessa é pecar, pecar pela carne, pecar é viver, e tudo o mais é uma forma de morte. A realidade última do homem, o seu mais profundo estrato, aquilo que mais susceptível é de aprofundar as zonas obscuras da consciência, ou de tornar possível a pesquisa da autenticidade humana, a vida em estado puro (como foi moda dizer-se), tudo isso vai ser negado ao Libertino. A sua marcha através de Braga é, pois, uma auto-flagelação, um exercício de masochismo mental, porque a cidade minhota descobriu, e explora, as suas formas ersátzicas de vida, e estas têm um peso demasiado grande para que qualquer Libertino individualista as vença como um novo Cristo.
A MISÉRIA REABILITADA?
Uma implicação ideológica profunda é aquela segundo a qual se poderia dizer que este livro de Pacheco tenta a reabilitação de um certo estado de miséria. A poetização da miséria. A miséria como fonte de maravilha. Mas em todas as coisas aparentemente negativas pode haver uma faceta positiva. É que, com efeito, este poeta maldito que nos aparece no livro de Pacheco (e não interessa que nos asseverem que é um rigoroso alter ego do autor) assume a miséria como recusa militante do Establishment, não acreditando que este possa ser destruído, por exemplo, pelas atitudes de V. S., personagem indirecta da narrativa, mas importantes pelo seu simbolismo. O negativismo romântico do Libertino leva-o, como se vê a um corte com todas as formas organizadas de resistência. Para ele só há uma forma de dignidade: é a de recusar tudo.
É esta atitude heróica, que leva à miséria e ignomínia, através de um Calvário de auto-aniquilação, o que profundamente o livro de Luiz Pacheco simbolilza, postula e retrata.
Que para além das implicações diversas, mais ou menos especulativas, e com a feição da ideologia a que cada qual se agarra (ou finge), seja dito, porém, que O Libertino passeia por Braga, a Idolátrica, o seu Esplendor é, pela novidade da linguagem, e pelo desassombro do depoimento, uma obra rigorosamente única da nossa moderna ficção.
Cardiff, Abril de 1970
Alexandre Pinheiro Torres
Com um inteligente e claro posfácio de Júlio Moreira apareceu recentemente um novo original de Luiz Pacheco, o celebrado autor de Crítica de Circunstância, livro que mercê da compreensão de toda a gente já vai na décima quinta edição.
Chama-se o novo original O Libertino passeia por Braga, a Idolátrica, o seu Esplendor. Sabe-se que foi disputado por várias editoras, mas o certo é que a Edição de Autor venceu mais uma vez. Desta forma é que o livro de autor português não se tornará «mercadoria» nem que o matem, mau grado a pesporrência de quem bem ajuda que tal situação de eternize, para bem dos escritores de meia tigela importados do estrangeiro e que, depois de vertidos no calão nacional, são propagandeados em caros anúncios com a melhor adjectivação que a casa gasta.
Poderá acaso o Leitor Distraído imaginar um Libertino a passear por Braga? Pode, porque podemos imaginá-lo a passear por onde lhe dê a real gana. Mas Braga – objectar-se-á – epitoma o «Establishment», e, este, embora adepto praticante convicto dos ballets rose, repele a concepção libertina segundo a qual o amor é um facto da Natureza. Apesar disso (e por isso mesmo) o Libertino vai tentar fazer a sua colheita numa coutada hostil, missionário da Verdade libertina junto do indigenato incréu, empurrado missionariamente pela premência do seu martírio, da sua glória e santificação.
Interessa-nos saber como o Libertino se descreve como um anti-D. Juan. Não é belo («com as 17 ou mais dioptrias e o estigmatismo e as lentes e as clarabóias do verde, que olhar será o meu?», interroga-se consciente do seu aspecto físico «desgraçado»), não tem um tostão («um bom Libertino não precisa de dinheiro», filosofa), e anda mal vestido, miserável («blusão de nylon preto, calças rotas no rabo, sapatos rotíssimos nas solas e sujos de poeira por cima, uma coisa entre o tedibói e o vagabundo», descreve-se).
O verdadeiro D. Juan, o Burlador de Sevilha, inventado por Tirso de Molina, esse é másculo e sabe usar da palavra. A magia verbal é com ele, embora os seus processos de sedução não deixem de não ser toscos, faz-se passar pelo noivo, promete casamento, etc., sobretudo não anda com lunetas de dezassete dioptrias nem exibe fundilhos. O Burlador de Braga está, assim, mais próximo Santo Genet, canonizado por Jean Paul-Sartre, por se tratar de uma figura que, pelo seu funambolismo charlatonesco vai tornar maravilhosos (no sentido de fontes de maravilha, surpresa, prodígio, de coisas extraordinárias e às vezes incompreensiveis) elementos que, na aparência, são ignóbeis.
O Burlador de Braga não vai ser, na verdade, como o seu antepassado espanhol. Este, como «gran garañon» de Espanha, tenta sempre suplantar as figuras que substitui. O «bracarense» não tenta suplantar nem substituir seja quem for. E, sobretudo (isto é fundamental), não promete casamento. Promete apenas prazer. Como processo de sedução utiliza os seus olhares de megatoneladas (por definição, sem eficácia). A «magia verbal» reduz-se a, nele, a um jogo simples e ingénuo de perguntas e respostas, com sugestões eróticas excessivamente vagas para a mentalidade das lolitas (?) minhotas. O Burlador de Braga esqueceu-se que a pseudovirgem de Nabukov é um produto sofisticado de um meio anti-Brgal (para usar o adjectivo de Luiz Pacheco), e que nem sequer é o H. H. que seduz ou que burla seja quem for.
A Penísula Ibérica tem de usar sempre de extremo cuidado quando tentar as comparações anglo-sáxonicas.
O auto-retaro do Libertino constitui uma ficha que serve para o colocarmos no mundo da humilhação. Descobre a Super-Lolita, e outras minilolitas de Entre Douro e Minho, mas a sua vagabundagem espiritual não lhe permite a persistência donjuanesca até as encurralar. Algumas não chegam mesmo a adivinhar que o Burlador de Braga se interessou efemeramente por elas. A admiração é à distância, não chega a haver qualquer sedução, e as suas manobras de ataque são escandalosamente ineficazes. O resultado prático é uma humilhação permanente, uma auto-flagelação, uma procura inútil do pecado, uma tentativa sempre frustrada de santificação pelo Mal. Nisto, a personagem afasta-se de Jean Genet, não chega a atingi-la nas suas ambições.
Tratar-se-á (como dirá o próprio autor) de «luxúria mental» apenas, das actividades inconsequentes e sem consequências práticas de um «Libertino dos domingos minhotos de Braga». O Libertino exclama desiludido no fim de uma jornada afinal inocente. «Mas que vontade de ter pecado. De pecar. Como assim: de viver.»
A EXEMPLARIDADE NEGATIVA
Mas em Braga é mais fácil fazer o Bem do que fazer o mal. Fazer o Mal é, às vezes, um tanto difícil. Pelo menos o Libertino não pode fazê-lo. Até porque o Mal, a ser feito em Braga, terá de ser feito de acordo com as regras antilibertinas do Establishment de que a cidade minhota á indispensável e glorioso bastião.
Augusto da Costa Dias foi quem, entre nós, e no domínio do ensaio, chamou pela primeira vez a atenção para esta inversão de valores. Ela é focada no estudo com que antecedeu a publicação do inédito de Almeida Garret, «O Roubo das Sabinas». Os caminhos da virtude são amenos e suaves, enquanto os do pecado não são. «A virtude nem é difícil nem é árdua», diz Garret, de quem Augusto da Costa Dias cita ainda estes versos:
Não, filho, só no crime há dor e angústia,
Só delícia e prazer há na virtude».
Aliás se bem interpreto é este o tópico profundo de Sartre ao interpretar Genet. Daqui se chega ao conceito de pecado como martírio, à ideia (sacrílega?) de que há uma santificação a que se pode chegar no Reino do Mal (como no Reino do Bem), daqui se chega à glorificação do mal, no sentido explicado perlo autor da Notre Dame des Fleurs: «há uma glória segregada pelos folhos da infelicidade».
Há, pois, uma santidade pela execração. Sartre chama a atenção em Saint Genet, Comédien et Martyr para o impulso que leva certos homens a procurar o desprezo e a buscar o julgamento dos outros homens. Ao lado da exemplaridade negativa. Em Jean Genet, e segundo a análise sartreana, há uma vontade de identificação com todos os pecados do mundo. Como ponto culminante desta Ética do Mal temos a ideia de que ela (da mesma forma que a Ética do Bem) também implica uma Graça.
A DEFESA DA EXEMPLARIDADE POSITIVA PELO CASTIGO
Tirso de Molina tinha de castigar o terrível D. Juan. O Burlador de Sevilha é, por isso, e segundo a moral oficial, uma obra de tendência morigeradora. Deus intervém sobrenaturalmente na figura do Convidado de Pedra e D. Juan vai par as profundas do Inferno. Mozart não pretendeu melhor solução. Não é que o sedutor sevilhano fosse, todavia, um descrente. O Leitor distraído sabe que, perante e iminência do castigo, pede um sacerdote, a fim de obter um perdão à tangente, oportunidade de redenção que lhe é negada. Assim é castigado. O nosso Guerra Junqueiro não deixa de não ter tido um espírito menos morigerador. À sua mentalidade, a este respeito pudibunda, não lhe soaria bem o triunfo do Libertino. Falar de um D. Juan, de um sedutor, é procurar-lhe simultaneamente uma punição qualquer: a defesa da exemplaridade positiva.
O Burlador de Braga, ou seja, Luiz Pacheco, não deixa também de não ser perseguido pela hantise da penitência. O Libertino passeia por Braga, a Idolátrica, o seu Esplendor, abre com a premonição da morte. Mas o que salva Luiz Pacheco de cair no cliché é a solução magistral para o problema do castigo. Falhada a peregrinação erótica, esquivas ou inatingíveis as lolitas, O Libertino nega-se como tal, confessa a sua queda, a sua demissão a sua derrota.
O «esplendor» que ele passeia por Braga é, portanto, um esplendor negativo, porque em Braga toda e qualquer tentativa de contágio libertino tem de acabar em fracasso. A cidade minhota é, pois, emblemática do Calvário do Libertino, não só a coutada inacessível à caçada, como ao espírito, que a dita. O Calvário é representativo da reacção conservadora a uma certa mentalidade revolucionária ou à doutrinação que dela deriva. Engloba, na sua mitologia, uma certa forma de castigo ditado pelos acusadores. O Convidado de Pedra de Tirso de Molina simboliza esse júri silencioso, mas tremendamente eficaz, que é a moral do Establishment. Guerra Junqueiro, em A Morte de D. João, soube (apesar da Velhice do Padre Eterno) ser dela um perfeito porta-voz, em nome da piedade humanitarista pelas vítimas dos burladores.
Mas no livro de Luiz Pacheco o Libertino não pode ser englobado no sector dos acusados. Nisto é que a personagem se opõe diametralmente a D. Juan, e é mesmo um anti-D. Juan. A argúcia de Pacheco foi ver esta implicação fundamental, ao definir a personagem por meio de uma caraterologia que é, detalhe por detalhe, uma «teologia negativa» relativamente à personagem tradicional. É certo que esta degradação do sedutor já tem antecedentes na literatura portuguesa. Estou a lembrar-me da forma como Gomes Leal a retrata nas Claridades do Sul. Mas Luiz Pacheco transcende obviamente estes planos, ligando o seu Libertino a outra genealogia. Poder-se-á mesmo dizer que a progénie do seu Libertino nada tem a ver com qualquer tradição. Pelo menos com a nossa tradição.
Mas não me interessando deslindar este aspecto há que afirmar que Luiz Pacheco coloca, com argúcia, a sua personagem no sector dos acusadores da sociedade. Os pecadores contra a instituição da heterosexualidade, como Gide, não deixam, a cada momento azado, de procurar a justificação. No fundo sentem-se sempre, e profundamente, no banco dos réus. Corydon ou Si le grain ne meurt são discursos de defesa contra uma Sociedade de dedo apontado. Gide está no limiar de Genet. E Genet já acusa, obviamente.
Seria injustiça, todavia, dizer que Luiz Pacheco é um mini-Genet ou um Libertino de bolso de colete. Bastaria a profunda genuinidade de O Libertino passeia por Braga, a Idolátrica, o seu Esplendor, o seu carácter, a sua atmosfera tão portuguesa, para demitirmos o juízo derrogativo. Até porque Luiz Pacheco escolhe para oferecer-nos a face em que o Libertino não se realiza, em que tudo rigorosamente lha falha, e em que o libertinismo se limita a uma nem sempre muito atrevida aventura mental. Não é este o caso de Genet, se bem interpreto.
O casanovismo frustrado deste Libertino leva-o de decepção em decepção O que lhe interessa é pecar, pecar pela carne, pecar é viver, e tudo o mais é uma forma de morte. A realidade última do homem, o seu mais profundo estrato, aquilo que mais susceptível é de aprofundar as zonas obscuras da consciência, ou de tornar possível a pesquisa da autenticidade humana, a vida em estado puro (como foi moda dizer-se), tudo isso vai ser negado ao Libertino. A sua marcha através de Braga é, pois, uma auto-flagelação, um exercício de masochismo mental, porque a cidade minhota descobriu, e explora, as suas formas ersátzicas de vida, e estas têm um peso demasiado grande para que qualquer Libertino individualista as vença como um novo Cristo.
A MISÉRIA REABILITADA?
Uma implicação ideológica profunda é aquela segundo a qual se poderia dizer que este livro de Pacheco tenta a reabilitação de um certo estado de miséria. A poetização da miséria. A miséria como fonte de maravilha. Mas em todas as coisas aparentemente negativas pode haver uma faceta positiva. É que, com efeito, este poeta maldito que nos aparece no livro de Pacheco (e não interessa que nos asseverem que é um rigoroso alter ego do autor) assume a miséria como recusa militante do Establishment, não acreditando que este possa ser destruído, por exemplo, pelas atitudes de V. S., personagem indirecta da narrativa, mas importantes pelo seu simbolismo. O negativismo romântico do Libertino leva-o, como se vê a um corte com todas as formas organizadas de resistência. Para ele só há uma forma de dignidade: é a de recusar tudo.
É esta atitude heróica, que leva à miséria e ignomínia, através de um Calvário de auto-aniquilação, o que profundamente o livro de Luiz Pacheco simbolilza, postula e retrata.
Que para além das implicações diversas, mais ou menos especulativas, e com a feição da ideologia a que cada qual se agarra (ou finge), seja dito, porém, que O Libertino passeia por Braga, a Idolátrica, o seu Esplendor é, pela novidade da linguagem, e pelo desassombro do depoimento, uma obra rigorosamente única da nossa moderna ficção.
Cardiff, Abril de 1970
Alexandre Pinheiro Torres

<< Home